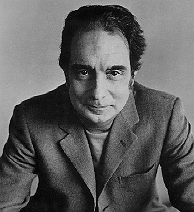|
| Foto: Domingos Oliveira |
É a pergunta que todos se colocam em França, o que fazer com a união e a mobilização que se criou em torno dos atentados de Paris? As marchas que juntaram quase 4 milhões de pessoas domingo em toda a França apregoaram uma união que, infelizmente, é apenas uma ilusão política e mediática.
Primeiro internacionalmente. Para muitos, a França conseguiu o "tour de force" de juntar numa só manifestação muitos dirigentes do mundo que nada têm em comum, um G50 improvisado. Teria piada, se não fosse grave. Que nível de hipocrisia se atinge quando Benjamin Netanyahu se expõe de braço dado com o presidente do Mali, quando Israel nem tem relações diplomáticas com esse país africano, ou a desfilar ao lado do presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas? Ou o presidente húngaro Viktor Orban, num cortejo pela liberdade de imprensa, ele que tanto a jugula no seu próprio país? Ou que dizer da presença de príncipes árabes, que são próximos, para não dizer cúmplices e financiadores de alguns grupos jihadistas? Obama, que todos criticaram por não ter estado em Paris, é bem capaz de agradecer um dia quem o aconselhou a não participar neste grupo que encabeçava a marcha republicana.
Depois, a desunião é também óbvia internamente, em França. Nos últimos dias multiplicaram-se ataques a lugares de culto judaicos e muçulmanos. Para evitar a habitual amálgama que se fazem neste tipo de ocasiões, relembremos mais uma vez que os muçulmanos não são todos jihadistas e muito menos terroristas.
E que dizer aos jovens muçulmanos que não se solidarizaram com as vítimas assassinadas no jornal Charlie Hebdo porque consideram que há coisas com as quais não se deve brincar? A estes respondo, parafraseando o humorista francês Pierre Desproges: “Pode rir-se de tudo, mas não com toda a gente”.
Ou poderia dizer-lhes que não se trata de uma guerra santa, nem de um choque de religiões ou de civilizações, nem tão pouco de visões do Mundo diferentes. Os jihadistas são, na sua maioria, manipulados por gente sem lei nem grei que invoca Allah e Maomé (em vão) para que os jovens convertidos lutem até à morte pela sua egoista e obscura causa, espalhando o medo, o caos e um clima de terror. O que ganham com isso? Ora aí está a pergunta que ninguém faz e que tem que ser respondida. Talvez a resposta esteja por detrás de quem os financia.
Apesar da farsa que foi o grupo que encabeçava o desfile, a França soube impôr o seu ideal e fez ouvir o seu clamor. Apesar de ferida e de luto – a nação que tantos já vaticinaram ao sucídio por ser um país dividido em comunidades que vivem em paralelo ignorando-se -, teve um sobressalto, lembrou-se que é tricolor e até multicolor. Aos que a quiseram fazer ajoelhar-se, uniu-se e resistiu, ficou de pé, fincou o pé e disse: Não temos medo!
A França ficou ferida, mas também histérica. O Governo francês promete aprovar rapidamente leis mais repressivas (para quem?), e dar mais meios e poder de acção aos serviços de segurança, que até andavam a seguir os irmãos Kouachi, mas deixaram de os considerar perigosos, alegando tratar-se apenas de fumadores de haxixe e de fazerem tráfico de roupa de contrafacção (!). Os franceses nem querem ouvir falar em algo como o “Patriot Act”, lei que surgiu das cinzas do 11 de Setembro, deu plenos poderes aos serviços de segurança americanos e nos mudou a vida a todos. Gritámos pela liberdade de expressão e vão cortar-nos na liberdade de acção? Há já até quem tenha sugerido suspender os Acordos de Schengen.
Se é verdade que os suspeitos de terrorismo têm que ser melhor vigiados, bem como a “livre circulação” para regiões jihadistas, além dos chefes e lugares de culto coniventes com os extremistas, é necessário também fazer mais prevenção. Como, onde? Nas escolas, por exemplo. Um jovem que se sente à margem da sociedade vai procurar outros valores em que se apoiar. É nessa fase, quando está frágil e é manipulável, que é preciso agir e tentar resgatá-lo. É nessa fase que corre o maior perigo de se marginalizar ainda mais, cair na criminalidade ou pior. Foi o que aconteceu com o jihadista português de Meispelt?
O Luxemburgo não está ao abrigo de um ataque terrorista, apesar de o Governo se mostrar tranquilizador.
O terrorismo também se combate a montante da violência, não apenas a jusante.
José Luís Correia
in CONTACTO, 14/01/2015